Eu era um garoto que não amava os Beatles e mal conhecia os Rolling Stones. Elvis Presley não passava de um nome que o rádio anunciava de vez em quando, e um ator de filmes de matinê. Uma infância imune à influência dos ídolos daquela época. Até que um dia, no ano de 1972, eu desperdiçava o tempo na frente de um aparelho de televisão, entre os adultos que assistiam a um festival de música popular brasileira. A programação, sem muita graça para um impúbere, prendia apenas pelo hábito de esperar o sono diante de um totem que ainda simulava um pouco de magia. Mas, uma voz que soava onipresente anunciou o próximo participante. E um magricelo saltou no palco, com um microfone na mão. Vestido de preto, calça e jaqueta de couro, a gola levantada, e um topete atrevido avançava por cima da testa. O visual lembrava muito bem aquele galã que cantava e rebolava, e fazia as vezes de herói no cinema das tardes de domingo. Uma apresentação bem diferente dos demais artistas que se uniformizavam dentro de calças de boca larga e cabeleira caída sobre os ombros. Mas não só a roupa. A música era diferente. Os primeiros versos da letra, num inglês impostado, pareciam delírio de um doido a repetir incansável uma súplica diante da platéia. E o corpo todo se contorcia ao compasso da música, à semelhança de Elvis Presley nos filmes da sessão da tarde. Em seguida da introdução, emendava um trecho em português, num outro ritmo marcado por uma sanfona nordestina, que eu conhecia muito bem de tanto ouvir as melodias de Luiz Gonzaga. E o topetudo afirmava, como um pedido de desculpas, que não queria provar nada, não tinha nada pra dizer, também. Ele só queria cantar um rockzinho antigo, que não tinha perigo de assustar ninguém. Anos mais tarde, gaguejando algumas palavras de inglês, aprendi a cantar o refrão:
let me sing, let me sing,
let me sing my rock’n roll,
let me sing, let me sing,
let me sing my blues and go.
Na inocência de pré-adolescente, eu não atinava no significado daquela mistura de rock com baião. E também nem desconfiei que começava ali naquele momento o meu primeiro, e quase único, caso de idolatria.
E foi com um sentimento de reverência e passadismo que quebrei um jejum cinematográfico de vários meses para assistir ao filme Raul – o início, o fim, e o meio. Desnecessário dizer que não dei a mínima importância para questões formais da obra. Não sei avaliar se o filme é bom ou ruim do ponto de vista estético. E não só pelo fato de não ser um crítico de cinema. É que para um fã saudosista a figura de Raul Seixas transcende qualquer pretensão racional. Como um devoto fascinado, prostrei-me mais uma vez diante de uma tela para reverenciar um ídolo que virou mito e deixou sua marca de carimbador maluco na música brasileira.
Com a sucessão dos quatros eu voltei aos meus 13 anos, quando, em nova aparição na TV, Raul executava uma performance debochada. Dessa vez, um personagem, entediado com a vida de classe média, ironizava o coro dos deslumbrados com a ilusão de progresso do regime militar. Já morava em Ipanema, tinha comprado um Corcel 73, e pelas graças do Senhor podia desfrutar do domingo para ir com a família ao jardim zoológico dar pipoca aos macacos. Era o ouro dos tolos do milagre brasileiro. Mas uma metamorfose ambulante, que sabia ser a mosca na sopa de muita gente, não podia parar na pista, pois sabia o perigo de ser atropelado. E numa sociedade alternativa com o futuro mago Paulo Coelho mergulhou nas drogas e na cultura indiana; andou pelos quatro cantos do mundo anunciando a chegada do Novo Aeon, e se tornou a luz das estrelas, o início o fim e o meio para uma geração. Durante um breve período, Raul Seixas brilhou incontestável como a vela que acende e a força da imaginação da música brasileira. Mas toda fonte luminosa um dia se apaga.
Aqui, mais uma vez, a trajetória do maluco beleza se aproxima da do pai do Rock, que ele tentava imitar no início da carreira. Um dos momentos mais impressionantes do documentário é a projeção de uma cena de Balada Sangrenta, estrelado por Esvis Presley, numa montagem em que as imagens dos dois roqueiros se confundem na parede de um edifício.
Nos anos 80, uma nova realidade brasileira demandava outras maluquices, e o cowboy fora da lei, com a saúde debilitada pelas drogas e pela bebida, foi jogado pra fora do trem. No final da década, por iniciativa de um novo amigo, Marcelo Nova, tentou outra vez retomar a missão de carpinteiro do universo. Mas era tarde. Apenas um disco gravado e alguns shows pelo Brasil serviram para antecipar o que os médicos já haviam diagnosticado poucos anos antes: o fim estava chamando o princípio pra poderem se encontrar
Letrada Communication © 2024. All rights reserved.
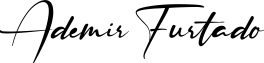

Escrever Comentário